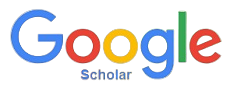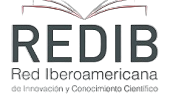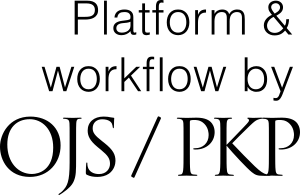What Public History is told about the African people in the Egyptian Traveling Museum?
DOI:
https://doi.org/10.36661/2238-9717.2019n34.11110Abstract
This article is based on an educational activity developed at an Egyptian Itinerant Museum, in the city of Londrina, in the northern state of Paraná, with the participation of sixteen 9th grade students from a full-time state school. The museum is a place of transit, displacement, transfiguration and overtaking in which dynamic and intricate relationships arise between the subjects in the experience of learning and feeling the temporal folds (PEREIRA; CARVALHO, 2010). However, we find an intricate history of selecting memories that gain visibility and forgotten ones. From this perspective, conceiving educational actions that provoke the strangeness of the historical and memorialistic senses proposed in museums becomes a fundamental practice and the theoretical-methodological approach steeped in the ideas of the German philosopher Walter Benjamin (1985; 1987) and the historian Edward Palmer Thompson ( 1981; 1988) subsidized a reading against the Egyptian museum and stimulated the production of historical and educational knowledge through the collective bias (THOMPSON, 1981), that is, through the shared authority (FRISCH, 2016).
Downloads
References
ALBIERI, Sara. História pública e consciência histórica. In: ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Introdução à História Pública. São Paulo: Letra e Voz, 2011. p. 19-29.
ALBUQUERQUE JÚNIOR, D. M. A melancolia dos objetos: algumas reflexões em torno do tema do patrimônio histórico e cultural. In: Letícia Bauer e Viviane Trindade Borges. (Org.). História oral e patrimônio cultural: potencialidades e transformações. 1ed.São Paulo: Letra e Voz, 2018, v. 1, p. 137-163.
ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira. Apresentação. In: ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; ROVAI, Marta Gouveia de Oliveira (Org.). Introdução à História Pública. Florianópolis: Letra e Voz, 2011. p. 7-15.
ARENDT, Hanna. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.
BENJAMIN, Walter. Obras Escolhidas. Magia e técnica, arte e política. v. 1. Tradução Sergio Paulo Rouanet. São Paulo: Brasiliense, 1985.
BENJAMIN, Walter. Passagens. Belo Horizonte: Ed. da UFMG; Imprensa Nacional do Estado de São Paulo, 2007.
BICHARA, Márcia Regina Poli. Focando a discriminação em sala de aula: memória, história e ensino de história. 2005. 273 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2005.
CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. 3. ed. São Paulo: Estação Liberdade; UNESP, 2006.
CUNHA, Nara Rúbia de Carvalho. Primaveras compartilhadas: (re)significando à docência na relação com cidade, memórias e linguagens. 2016. 250 f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2016.
FRISCH, Michael. A história pública não é uma via de mão única. In: MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; SANTHIAGO, Ricardo. (orgs.). História Pública no Brasil. Sentidos e itinerários. São Paulo: Letra e Voz, 2016. p. 57-69.
GALZERANI, Maria Carolina Bovério. Memória, história e (re)invenção educacional: uma tessitura coletiva na escola pública. In: MENEZES, Maria Cristina. (Org.). Educação, memória e história: possibilidades, leituras. Campinas: Mercado das Letras, 2004. p. 9-43.
GALZERANI, Maria Carolina Bovério. A produção de saberes históricos escolares: o lugar das memórias. In: FERREIRA, Antonio Celso; BEZERRA, Hollen Gonçalves; LUCA, Tania Regina de. (orgs.). O Historiador e Seu Tempo. São Paulo: Ed. UNESP, 2008. p. 223-235.
GALZERANI, Maria Carolina Bovério. Práticas de ensino em projeto de educação patrimonial: a produção de saberes educacionais. Revista Pró-Posições, Campinas, v. 24, n. 1, p. 93-107, jan./abr. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0103-73072013000100007
GAY, Peter. A experiência burguesa. Da Rainha Vitória a Freud: a educação dos sentidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.
GOMES, Nilma Lino. Diversidade e currículo. In: BEAUCHAMP, Jeanete; PAGEL, Sandra Denise. (orgs.). Indagações sobre o currículo – diversidade e currículo. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, 2008. p. 17-47.
GOMES, Nilma Lino. Diversidade e afrodescendência: mediações, interações e (re)conhecimento. Comunicação em Foco, v. 18, n. 26, p. 277-280, 2015. DOI: http://dx.doi.org/10.24934/eef.v18i26.1149
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória: arquitetura, monumentos, mídia. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
KNAUSS, Paulo. Quais os desafios dos museus em face da história pública? In: MAUAD, Ana Maria; SANTHIAGO, Ricardo; BORGES, Viviane T. B. (orgs.). Que História pública queremos? São Paulo: Letra e Voz, 2018. p. 141-147.
MATOS, Olgária. Os arcanos do inteiramente outro. São Paulo: Brasiliense, 1989.
MENESES, Ulpiano Toledo Bezerra de. A exposição museológica e o conhecimento histórico. In: FIGUEIREDO, Betânia Gonçalves; VIDAL, Diana Gonçalves. (orgs.). Museus: dos gabinetes de curiosidade à museologia moderna. Belo Horizonte: Argumentum, 2005. p. 15-84.
PAIM, Elison Antônio. Para além das leis: o ensino de culturas e histórias africanas, afrodescendentes e indígenas como decolonização do ensino da história. In: MOLINA, Ana Heloisa; FERREIRA, Carlos Augusto Lima. (orgs.). Entre textos e contextos: caminhos do ensino de História. Curitiba: CRV, 2016. p. 141-161.
PEREIRA, Junia Sales. Andarilhagens em chão de ladrilhos. In: FONSECA, Selva Guimarães. (org.). Ensinar e aprender História: formação, saberes e práticas educativas. Campinas: Átomo & Alínea, 2009. p. 277-296.
PEREIRA, Júnia Sales; CARVALHO, Marcus Vinicius Corrêa. Sentidos dos tempos na relação museu/escola. Cadernos Cedes, Campinas, v. 30, n. 82, p. 383-396, set./dez. 2010.
PINTO JUNIOR, Arnaldo; BUENO, João Batista Gonçalves; GUIMARÃES, Maria de Fátima. A BNCC em pauta: quando nós vamos estudar a nossa história? In: MOLINA, Ana Heloisa; FERREIRA, Carlos Augusto Lima. (orgs). Entre textos e contextos: caminhos do ensino de história. Curitiba: CRV, 2016. p. 61-82.
POMIAN, Krzysztof. Colecção. Enciclopédia Einaudi. Porto: Imprensa Nacional / Casa da Moeda, 1984. p. 51-86.
POULOT, Dominique. Museu e museologia. Belo Horizonte: Autêntica, 2013.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. A danação do objeto: O museu no ensino de história. Chapecó: Argos, 2004.
RAMOS, Francisco Régis Lopes. Utilidades do passado: Museu, memória e ensino de história. In: CAVALCANTE, Maria Juraci Maia et al. História da educação comparada: discursos, ritos e símbolos da educação popular, cívica e religiosa. Fortaleza: Edições UFC, 2011. p. 27- 51.
SAID, Edward W. Orientalismo. Barcelona: De bolsillo, 2004.
SAID, Edward W. Cultura e Imperialismo. Barcelona: Editorial Anagrama, 2005.
SANTHIAGO, Ricardo. Duas palavras, muitos significados: Alguns comentários sobre a história pública no Brasil. In: MAUAD, Ana Maria; ALMEIDA, Juniele Rabêlo de; SANTHIAGO, Ricardo. (orgs.). História Pública no Brasil. Sentidos e itinerários. São Paulo: Letra e Voz, 2016. p. 57-69.
THOMPSON, Edward Palmer. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Rio de Janeiro: Zahar, 1981.
THOMPSON, Edward Palmer. Costumes em comum: estudos sobre a cultura popular tradicional. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.